“Não consegui ler nem 1/3”
Como dizia meu avô, nesse mato tem capim
Publicado
em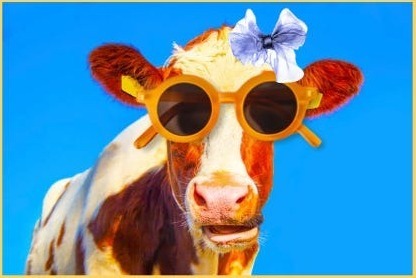
O tempo de digestão nos ruminantes varia conforme a espécie e a composição do alimento. Eu, uma mamífera onívora não-ruminante, precisei de meses para processar o impacto.
Nesse mato há capim!
“Onde você está com a cabeça?”/ “No pescoço, pensei”.
Não, esse não é um ensaio para vender livro. Tampouco uma chamada para colecionar votos. Eis aqui, em ato público, meu processo de digestão.
Nesse mato há capim
Há meses ou há quase um ano, creio eu, enviei meu original de poesia para determinada editora. A promessa era bonita: ver o livro em mãos independentes que, apesar da sanguinolência do meio editorial, romperiam as fronteiras iniciais.
Não se enganem: o retorno rápido e não menos violento veio como uma foice:
“Foi impossível ler seu livro, não cheguei nem à metade. Um terço, talvez”.
Algo do tipo, já que, meses após o ocorrido, ainda digiro as palavras.
Palavras-farpas, certamente. Porém, seu repouso tem endereço, cama e daycare.
No episódio, o que me impactou não foi a rejeição – afinal qualquer artista, cedo ou tarde, se depara com recusas. O que me assustou foi o clima de batalha criado pela ausência de diálogo.
O contrário do diálogo é a barbárie.
Lembro aqui o pensamento benjaminiano*, de que “todo documento de civilização é um documento de barbárie”. A ausência do diálogo não é somente um sintoma da barbárie, mas sua própria condição de existência.
Não podemos esquecer que os bens culturais carregam as injustiças e violências históricas que facilitaram sua preservação.
Quem não pode falar? A quais grupos foi sepultado o direito ao discurso? E, ainda mais, se a barbárie está presente na civilização, quais comunidades são reduzidas à mera existência? A quem se inculca o estigma da barbaridade?
Lembro-me de que, quando estudante do Ensino Médio, havia uma professora de redação que devolvia nossos textos de forma irreconhecível. Eram riscos, gritos, vermelhidões. Aquilo mais parecia um traçado de guerra de Bonaparte.
A batalha era contra a linguagem ou contra o autor?
O efeito era reverso: diante de tantas rasuras, o texto se tornava labirinto. Um beco sem saída. Muitos de nós desistíamos e nos transformávamos no próprio Minotauro: entre aquilo que não se podia dizer mas que, dizendo, não era dito.
Como professora de Língua Portuguesa, uma das lições mais importantes que venho amadurecendo é: não se pode podar o discurso, nem corromper sua infinitude. É preciso ceder-lhe o sofá da sala, à beira do crepúsculo.
A poesia é ingovernável.
Inspiração versus trabalho
É preciso desmistificar a teoria da inspiração. E não falo aqui sobre a teoria da conspiração, embora em muitos contextos seja oportuno tocar no tema.
“O tiro saiu pela culatra”, já ouviu essa expressão?
Quando o/a professor/a ou o/a editor/a recebe um manuscrito como se estivesse segurando um cacho de espinhos, isso não corresponde à ideia da escrita literária como trabalho, mas sim como inspiração. Sabe o porquê? Exatamente porque o trabalho exige tempo, fôlego, dedicação e, em alguns momentos, mudança de rota. Um manuscrito, portanto, deve ser tratado como fruto de trabalho e devoção. E, por isso, minhas caras e caros, é preciso que haja, sobretudo, respeito.
Sendo assim, o tiro sai pela culatra, exatamente porque, ao recusarmos ou descartarmos veementemente a liberdade e a multiplicidade da escrita, nós a tratamos como um raio caído dos céus, essa terrível ideia romântica de que, por nascimento, nos é endereçado o divinal, isto é, o próprio talento, sem que tenhamos qualquer participação real nessa trama. O perigo, a meu ver, é que o romântico cria estruturas e padrões que, uma vez contestados, remetem ao caos.
E aqui surge um paradoxo: ao enxergarmos a escrita apenas como fruto da inspiração, desconsideramos o trabalho, o esforço e a normalidade de sua ruptura. Essa perspectiva nos leva, contraditoriamente, a buscar textos padronizados, alinhavados ao cânone e desprovidos de qualquer faísca. Em outras palavras, ao privilegiarmos apenas aquilo que, hipoteticamente, consideramos ser espontaneamente genial, acabamos enquadrando a escrita em modelos pré-estabelecidos, criando justamente a rigidez que pretendíamos evitar.
Parece paradoxal, não é mesmo?
Mas a poesia é ingovernável. Não se reduz, portanto, a uma fórmula mecânica.
E é por isso que ela resiste. Não porque oferece a resposta adequada às expectativas, mas porque existe nas fissuras das imposições. A poesia resiste na disfunção, na transformação, na reescrita e na imprevisibilidade. A poesia prospera no trabalho árduo que, longe de negar o talento, o molda até que se torne substância e verdade.
A poesia é ingovernável e isso não significa que ela não seja trabalho.
Não significa que não exija estrutura, revisão e técnica. O dilema está em equilibrar essa exigência sem intimidar, tampouco domesticar a multiplicidade da linguagem. A literatura exige um lugar de respiro e de tensão criativa, onde tanto a liberdade absoluta quanto a normatização coexistam. A arte literária não deve ser apenas um produto para o mercado, mas também a reescrita infinita do mundo.
“Nesse mato tem capim”, disse meu vô.
Quando criança, em nossa terra, meu vô plantava braquiária para alimentar as vacas de leite de sua criação. Para quem não conhece, a planta é comumente usada como pastagem para gado, devido à sua alta produtividade, pois cresce muito rapidamente e apresenta grande resistência aos períodos de seca.
De tempos em tempos, meu vô separava parte da terra para outras vegetações e animais, mas era difícil reter a multiplicação da braquiária. Apesar da capina frequente, seus ramos apareciam selvagemente por todos os lados. Era difícil de controlar. De crescimento vigoroso, era, pois, ingovernável.
Lembro-me perfeitamente de admirar o crescimento de seu denso tapete e de mexer em sua espigueta, onde se escondiam as sementes. Havia épocas em que eu corria morro abaixo com um verdadeiro buquê de espigas nas mãos.
Outro dia, visitando aquelas terras, minha mãe encontrou uns tufos da planta.
“Nesse mato tem capim”.
Naquela tarde, não conversamos sobre as rosas no jardim, mas sobre os ramos que crescem nos barrancos, levianamente.
El poder mágico de la palabra se intensifica por su caráter prohibido, Octavio Paz.
A luta pela linguagem e a luta contra a comunicação perfeita, contra o código único que traduz todo significado perfeitamente, são a mesma luta, Donna Haraway.*
Possíveis (e discretos) diálogos iniciais:
Octavio Paz* (1924-1998) e Donna Haraway* (1944 -), embora pertençam a tradi-ções intelectuais diferentes, compartilham o interesse pela escrita na construção da realidade. Dessa forma, enquanto Paz vê a escrita poética como um meio que rompe com o ordinário e revela dimensões secretas da realidade, Haraway a entende como uma ferramenta crítica.
Se “o poder mágico da palavra se intensifica por seu caráter proibido”, conforme Paz, a poesia se fortalece exatamente naquilo que foge ao nosso controle, seja pela ruptura ou pela resistência.
Em consonância, conforme Haraway, por não ser neutra, a escrita torna-se um ato de resistência e de transformação do mundo. Temos aqui uma abordagem mais construtivista.
Em paz, a escrita revela mistérios e rompe o ordinário, enquanto em Haraway desconstrói categorias fixas. Contudo, em ambas as visões, a escrita não se rende, nem se submete, mas resiste e reconfigura a realidade.
A poesia é, pois, ingovernável.
E eu também o sou.
……………..
Dicas de leituras:
• AGAMBEN, Giorgio. Il linguaggio e la morte: Un seminario sul luogo della negatività. Torino: Giulio Einaudi, 1982.
_. Homo sacer: Il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Einaudi, 1995.
_. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
_. A Linguagem e a Morte: Um Seminário sobre o Lugar da Negatividade. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
• BENJAMIN, Walter. Über den Begriff der Geschichte. In: __. Gesammelte Schriften I-2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. p. 693-704.
_. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
• GOFFMAN, Erving. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963.
• HARAWAY, Donna. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socia-list-Feminism in the Late Twentieth Century”. In: __. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991. p. 149-181.
• MACHADO, L. A. Z. et al. Consórcio milho-braquiária. Brasília, DF: Embrapa, 2013.
• PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad. México: Fondo de Cultura Económica, 1950.
__. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1956.
…………………..
Agradecimentos da autora
Quero agradecer à equipe do Café Literário Notibras (Eduardo Martínez e Daniel Marchi) pela incrível recepção aos meus ensaios, que têm sido publicados na coluna Café Literário.
Meu agradecimento também vai para a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA, que, por meio do Edital Murilão, da cidade de Juiz de Fora, Minas Ge-rais, publicará meu próximo livro de poesia, exatamente este de que falo no ensaio.
Por fim, sou grata aos que têm chegado de peito aberto e com diálogo honesto.
“Um poema a mais/e só/um poema fraco, sem métrica/sem rima/ Sem metáforas ou/sem imagens banais (…) E ainda assim/ matam um leão”. (Daniel Marchi)
